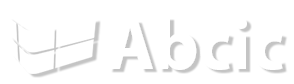Industrializar em Concreto 34 - abril de 2025
ARTIGO TÉCNICO
Impactos do desenvolvimento tecnológico no projeto e aplicações do concreto estrutural
Enquanto os engenheiros se entusiasmam com esse progresso notável, frequentemente negligenciam a validação através de exemplos e comparações com experimentos, utilizando os softwares diretamente sem o conhecimento prévio adequado - o que leva a erros graves. Quando analisados cuidadosamente, identifica-se não apenas o erro, mas também suas causas, que geralmente envolvem o uso desses modelos não lineares sem as devidas precauções.
Evidentemente, a empresa projetista é a responsável final, mas acredita-se que todos devam ser alertados sobre os riscos de utilizar esses softwares sem um profundo entendimento de suas capacidades e limitações. Nesse contexto de constante evolução tecnológica - tanto das ferramentas de projeto quanto de novos materiais e processos construtivos - a normalização técnica desempenha um papel crucial ao servir como base sustentável para aplicações seguras e eficientes.
3. O papel da normalização
Em Londres, no ano de 1908, foi fundado o "Instituto do Concreto" com 100 membros, incluindo engenheiros, arquitetos e outros profissionais. Um dos principais objetivos do instituto era estabelecer regras para projetos e permitir que engenheiros aplicassem a nova tecnologia (TAYLOR; BURGOYNE, 2008). Mesmo antes da criação do Instituto, já existiam códigos de construção, principalmente para prevenir incêndios que haviam devastado várias cidades europeias.
Do outro lado do Atlântico, os norte-americanos publicaram em 1910 o primeiro padrão para edificações em concreto, conhecido como "Normas Padrão para o Uso do Concreto Armado", desenvolvido pela "Associação Nacional de Usuários de Cimento" - um documento com apenas 14 páginas (ACI, 2019).
Em 1908, a teoria estrutural baseava-se na teoria da elasticidade desenvolvida por Hooke, Young e Euler, que estabelecia relações lineares proporcionais entre tensão e deformação. O processo de dimensionamento consistia em determinar uma tensão admissível que o material pudesse suportar com segurança. Por meio de cálculos e ensaios, garantia-se que as tensões de trabalho permanecessem abaixo do limite do material, incorporando um coeficiente de segurança. Sempre houve ceticismo sobre a aplicação da teoria da elasticidade em estruturas de concreto armado, já que estas eram projetadas para fissurar sob cargas de serviço, transferindo as tensões de tração para a armadura. Os fatores de segurança eram elevados, como comprova o excelente desempenho das estruturas da época (TAYLOR; BURGOYNE, 2008). Normas europeias como a DIN 1045 e BS 8110 mantiveram o método das tensões admissíveis até os anos 1970. O American Concrete Institute (ACI) só eliminou esse critério de suas normas em 2005.
Em 1930, extensômetros permitiram medir as reais tensões e deformações nas estruturas. Observou-se que: as tensões em elementos de concreto armado divergiam das previstas pela teoria elástica; após ultrapassar o limite de proporcionalidade, o concreto exibia um patamar de escoamento dúctil sob flexão. Essas descobertas impulsionaram a teoria da plasticidade, posteriormente incorporada às normas internacionais de concreto.
Em 1940, o Brasil introduziu a primeira versão da NB1 - Cálculo e Execução de Estruturas de Concreto Armado, que estabelecia, além dos critérios de tensões admissíveis, um modelo inicial de cálculo para estado limite último (ELU) em flexão simples (ELU com fator de segurança único = 2). Tinha um formato muito semelhante ao utilizado hoje e já era amplamente usado mesmo antes, na década de 1930, em projetos como a Ponte Eusébio Matoso em São Paulo, que ainda está em boas condições com 83 anos de idade, e a Estrada de Ferro Mairinque-Santos, a primeira ferrovia a ser construída em concreto armado, com um arco de 75m que era recorde mundial e que ainda se mantém em bom estado aos 90 anos. Naquela época, apenas a Rússia e o Brasil possuíam normas com modelos de cálculo por estados limites.